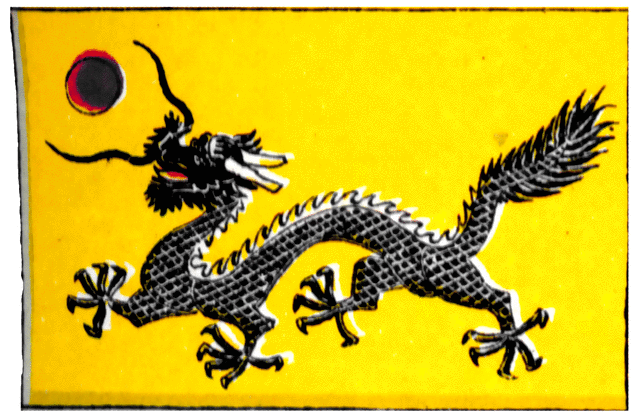
Quando, em 1817, David Ricardo publicou os seus «The Principles of Political Economy and Taxation» e neles escreveu que «num sistema de total liberdade de comércio (...) os objectivos do interesse individual conjugam-se perfeitamente com o bem universal de toda a sociedade», não pretendia retirar desta asserção de senso comum qualquer "inevitabilidade" ou "inexorabilidade" histórica, muito menos concluir, como pretendeu Auguste Comte cinco anos mais tarde, que «a observação do passado possa facultar a predição do futuro, e que o possa fazer tanto em política como em astronomia, em física, em química e em fisiologia».
De resto, esta paixão pelo voluntarismo político assente na presunção do conhecimento das «leis da história», é própria dos totalitarismos e, sobretudo, do romantismo socialista, e nunca agradou ao liberalismo. Popper fez, na sua «Sociedade Aberta», a genealogia desta predisposição intelectual e política, e recordou, nas «Conjecturas e Refutações» que um dos aspectos que mais distanciam o socialismo do liberalismo é, precisamente, a questão epistemológica: enquanto o liberalismo aceita o limite natural do conhecimento humano e, em consequência, não acredita na capacidade dos governantes em saberem mais e melhor do que os indivíduos sobre os seus interesses próprios, as suas necessidades e os meios de os poderem satisfazer, o cartesianismo socialista exalta o racionalismo e o voluntarismo, confiando que aqueles fins podem ser melhor alcançados por quem governa. Daí ao intervencionismo keynesiano ou aos planos quinquenais soviéticos, forma mais dura da mesma atitude, foi um pequeno passo, que levou a substituir o indivíduo (fonte de egoísmos e de todos os males que afectavam a sociedade), pelo colectivo, estivesse ele representado pelos governos tecnocráticos de burocratas esclarecidos ou pelas minorias iluminadas das vanguardas proletárias.
Na verdade, o liberalismo entendeu desde sempre que as instituições sociais são mais, como dizia Hayek, o «resultado dos nossos actos do que das nossas vontades». Nessa medida, a liberdade de comércio é, por definição, própria das sociedades livres onde os homens podem dispor de si e do que é seu, sem terem o Estado, isto é, outros homens, por intermediário. Obviamente que num meio social onde seja isso seja possível, a coacção será proporcionalmente inversa à dimensão dessa liberdade. Acresce que, por outro lado, uma sociedade com qualidade de vida é potencialmnente mais exigente e não tolera despotismos e arbitrariedades. Vimos isso suceder, ainda há não muito tempo, no Chile, mas já não nos parece provável que o mesmo possa acontecer em Cuba. Qual foi a diferença? A resposta é elementar: no primeiro caso, graças à economia liberal implementada pelos «Chicago boys» de Milton Friedman, a sociedade chilena desenvolveu-se economicamente e tornou-se intolerante para com a ditadura. No segundo caso, o fascismo castrista impediu desde sempre o livre comércio, que poderia transformar uma sociedade de escravos numa sociedade exigente. Ou seja, para a libertação do povo chileno contribuí muito mais a liberdade económica que se foi implantando, do que, infelizmente, décadas de sacrifício e resistência cívica e política à ditadura de Castro.
De resto, e invocando o exemplo da China que serviu de mote a esta polémica, vale a pena reparar nalguns pormenores da sua história. Até à segunda metade do século XIV, quando a dinastia Ming tomou o poder e iniciou um longo processo de centralização e isolamento do país, a China era um dos mais evoluídos países do seu tempo. As cidades chinesas eram mais prósperas e tecnologicamente adiantadas do que as suas congéneres europeias, e a China vivia um desenvolvimento industrial e comercial sem paralelo. Por exemplo, no fim do século XI, a produção siderúrgica era de 125 000 toneladas/ano, valores nacionais só atingidos sete séculos mais tarde em Inglaterra, nos primórdios da revolução industrial. Pouco tempo depois dos Ming alcançaram o poder proíbiram, por édito imperial de 1433, a construção de navios e, desse modo, deram por findo o seu império comercial. Daí até aos nossos dias, o «Império do Meio» isolou-se do mundo e desenvolveu uma das mais brutais tiranias de que há memória, de que a «Revolução Cultural» do mandarim Maozedong, tão do agrado de algum esquerdismo vanguardista do século XX, foi apenas mais um lamentável episódio.
Ora, o que agora se passa nesse país está longe de configurar qualquer indício sério de liberalismo. O facto de, a partir de 1979, Deng Xiaoping ter criado as Zonas Económicas Especiais (ZEE), não significa que se tenha permitido o desenvolvimento de um modelo capitalista no seu país. Pelo contrário, a propriedade privada continua circunscrita a essas pequenas parcelas de um gigantesco território e a população permanece oprimida sob o jugo de uma ditadura feroz e de uma economia altamente planificada. Porém, esse facto, do ponto de vista liberal, não deverá ser impedimento para que as nações livres possam manter relações comerciais com a China, do mesmo modo que continuamos a fumar «puros» com Fidel no poder. Quer porque essa recusa em nada contribuíria para qualquer modificação política de substância, quer porque só a poderia retardar.
Não sendo, porém, um facto suficiente para se poder afirmar que a China vive livremente ou que para lá caminha, o desenvolvimento das relações comerciais com esse país poderá proporcionar a necessidade de estender os modelos de produção privada das ZEE a outras zonas do território o que, aliás, tem vindo a suceder. Se isso vier a acontecer, difilmente perdurará o sistema totalitário vigente, porque, por definição, onde existe liberdade individual não pode manter-se a tirania. E isto, ao contrário do que afirma Rui Tavares, não é um exercício de precognição histórica, mas somente uma constatação de bom senso ou, se quiser, de senso comum.